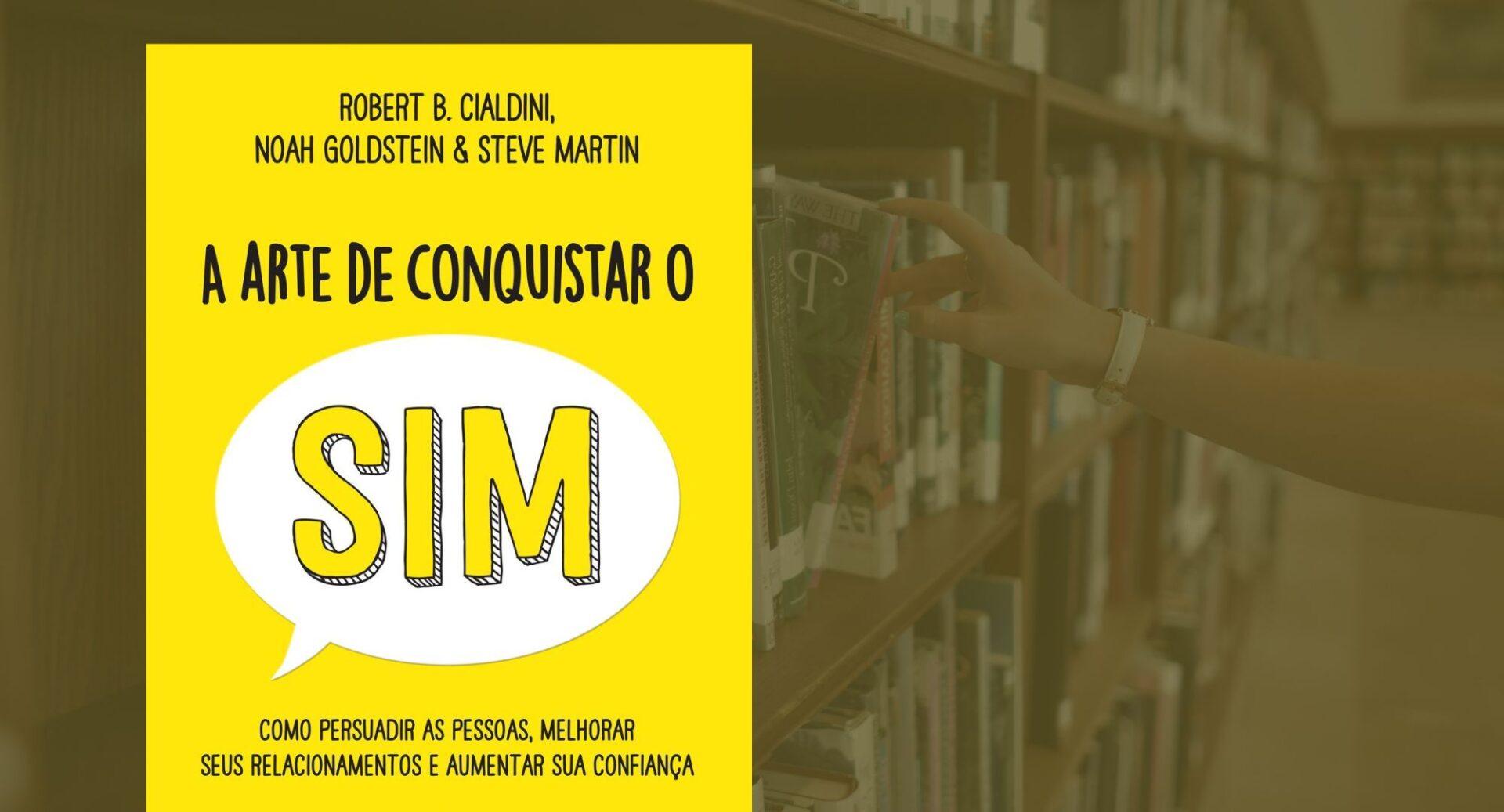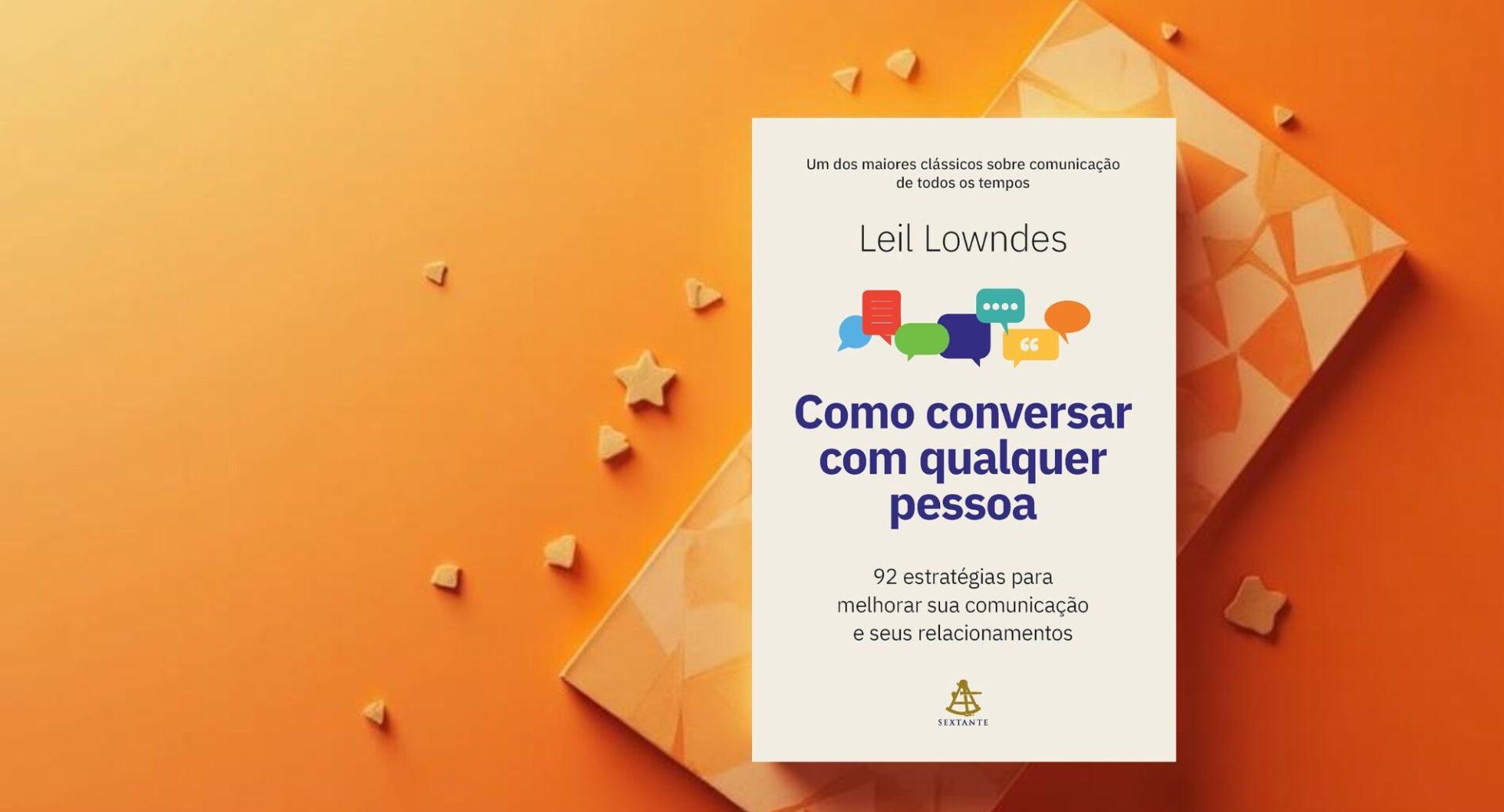#482
Petz: de uma loja à liderança do varejo pet, com Sérgio Zimerman | Café com ADM 482
Petz: de uma loja à liderança do varejo pet, com Sérgio Zimerman | Café com ADM 482
Sobre o autor

Bernardo Góis
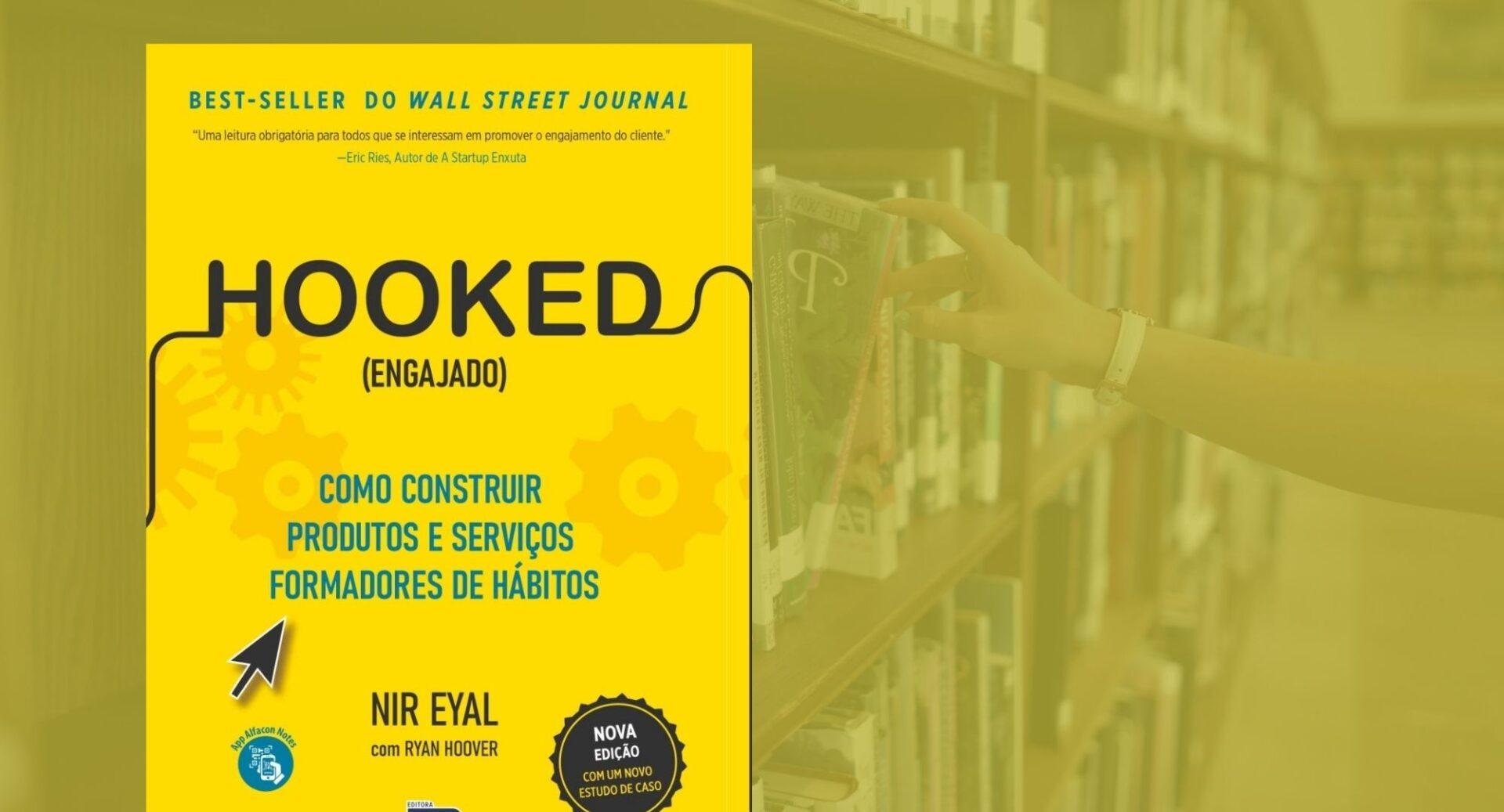
Por que alguns aplicativos viram hábito? Este livro explica exatamente como isso acontece
15 jan 2026 2 min leitura
Por: Angela Mathias
15 jan 2026 2 min leitura#482 Petz: de uma loja à liderança do varejo pet, com Sérgio Zimerman | Café com ADM 482
#482 Petz: de uma loja à liderança do varejo pet, com Sérgio Zimerman | Café com ADM 482
00.0000.00